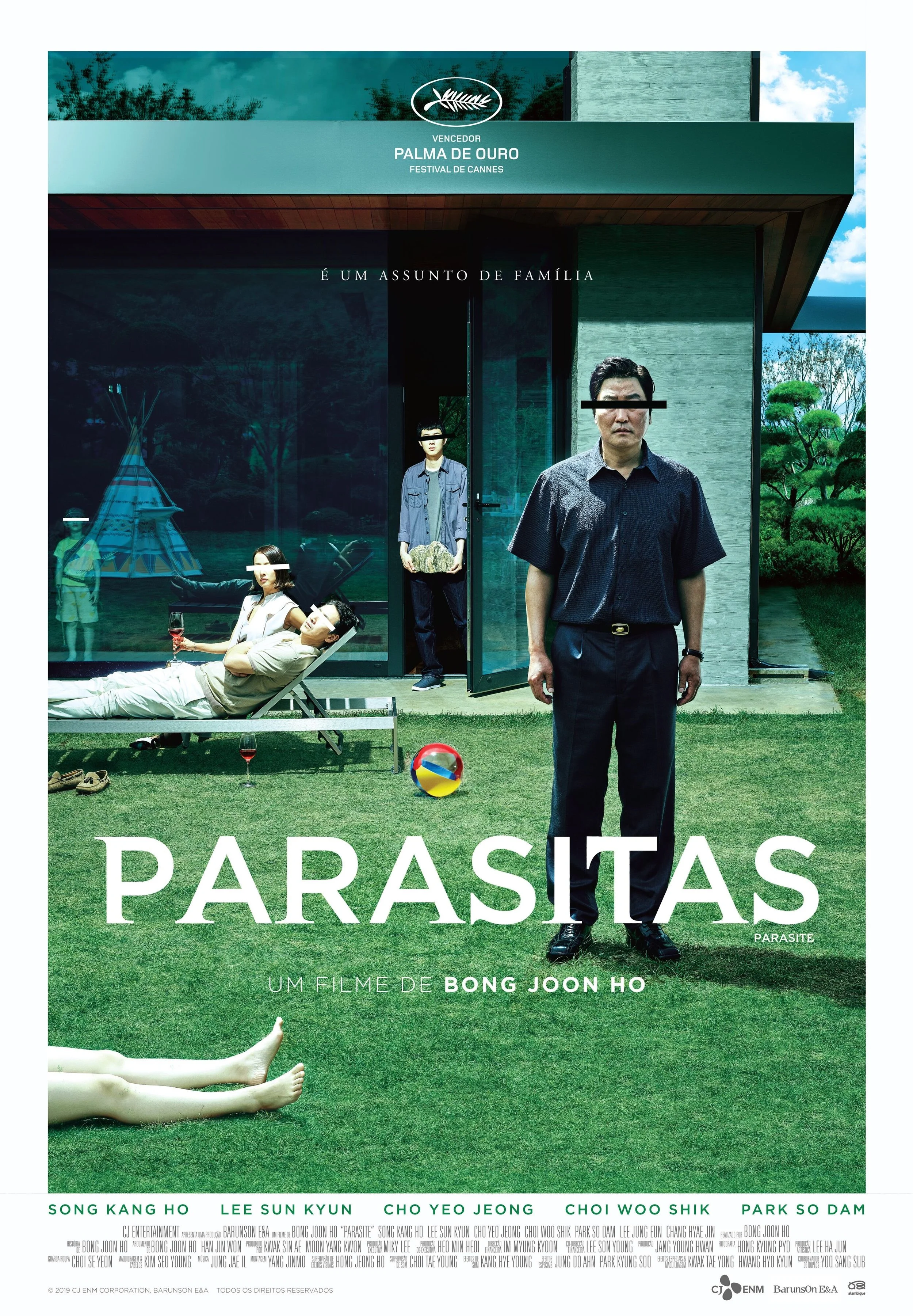Uma Vida Escondida
Tempos houveram em que um novo filme de Terrence Malick era um acontecimento. Especialmente no regresso à realização em 1998 com A Barreira Invisível, vinte anos depois do título anterior. Depois da obra-prima A Árvore da Vida, em 2011, a sua produção ficou mais prolífica, entrando numa fase mais abstracta que alienou lentamente, mas consistentemente, fãs e críticos. Neste novo ciclo (três filmes de ficção, mais um documentário, entre 2012 e 2017), Malick abdicou definitivamente de qualquer conceito convencional de narrativa optando por uma abordagem de filmagem sem guião, lançando os seus actores em instantes de improvisação, capturando interações e sensações que mais tarde edita em elipses temporais e espaciais num puzzle de momentos e fragmentos impressionistas que devem mais à pintura e à poesia que a qualquer conceito tradicional de cinema. É por isso que se fala em Uma Vida Escondida como um regresso. Não só a uma forma reconhecível de narrativa, como a uma recriação de um acontecimento histórico como moldura para as suas explorações temáticas.
Originalmente anunciado como Radegund, título mais tarde alterado por inspiração de uma passagem no livro Middlemarch, de George Eliot, Uma Vida Escondida conta a história de Franz Jägerstätter, um agricultor austríaco, e católico devoto, que se recusou a jurar fidelidade a Adolph Hitler e a lutar pelos nazis na Segunda Guerra Mundial. Transcendental e poético, volta a confrontar o profano e o sagrado, a explorar a natureza e a religião, a questionar a humanidade e, nunca antes tão frontalmente, a réstia de humanismo, integridade e convicção passíveis de serem encontradas no indivíduo perante o peso incomensurável do colectivo em confronto com os seus valores. Franz, interpretado por August Diehl, sente um profundo dever moral, e o seu acto pacífico e passivo de rebelião abala o sistema montado para anular o indivíduo e usá-lo como ferramenta dos desígnios abjectos do regime. Se nas cenas iniciais a vila em que Franz e Franziska, a actriz Valerie Pachner, parece verdadeiramente idílica, perante este desalinhamento vem-se a revelar a verdadeira natureza de quem abraça a retórica da intolerância, seja por subjugação e conformismo ou por finalmente se encontrar destapado do manto da moral. Vizinhos e amigos julgam, cospem, insultam e roubam, indo muito além das fronteiras cinzentas desenhadas pelo medo e pela cobardia. Fascinante e insular, August Diehl oferece uma serenidade inusitada a Franz, em perceptível conflito interno, porém optando amiúde pelo silêncio, sendo normalmente os outros à sua volta quem têm a pretensão de lhe dizer o que pensar e como agir.
A câmara de Malick desafia os limites da intimidade, habitando os espaços dos corpos, por vezes lutando fisicamente com eles pelo território que ocupam, numa ânsia de capturar a verdade que se encontra num beijo, num abraço, num olhar e nos inúmeros silêncios que permeiam o ruído da vivência diária. A sua edição fragmentada e embalatória parece por vezes residir nas franjas das cenas, encontrando a sua verdade nos limites das acções e dos discursos. Se há um permanente questionar espiritual das personagens, um diálogo surdo numa constante, porém abalável, mostra de fé, através das muito “malickianas” narrações em off, também há a percepção que o Amor (assim mesmo, com maiúscula) é a expressão maior da espiritualidade desejada. Desde o momento em que Franz e Franziska são separados por forças maiores (mais uma vez, o indivíduo prisioneiro da sua circunstância), Malick, que nos tinha mostrado a fortaleza dos seus laços e da sua intimidade, faz-nos testemunhas dali em diante dos seus calvários. Além da perda da liberdade de Franz (liberdade física, pois a sua postura como objector de consciência é o reflexo tanto da sua integridade como da sua liberdade espiritual), seguimos as humilhações de quem ficou para trás, bem como do sacrifício de Franziska e da sua irmã para trabalhar a terra sem a ajuda de Franz. É no meio deste negrume que por vezes se vislumbram actos de bondade como raios de luz a rasgar espessas nuvens. Inspirados também são os momentos epistolares em que os amantes separados trocam prosaicas mensagens de esperança e positivismo, evitando o recurso à tragédia ou ao fatalismo. Inesperado é o horror insidioso e desconfortável que se instala na recta final do filme na recriação dos acontecimentos verídicos que dá voz a uma vida que, num momento de escuridão, se tentou rasurar.
Apesar de filmado em 2016, e de um trabalho de pós-produção de cerca de três anos, Uma Vida Escondida revela-se atempado e relevante à data de estreia, dialogando com ansiedades e preocupações tão actuais como pertinentes. Através de Franziska, Malick chega a quebrar a quarta-parede e a falar connosco olhos-nos-olhos, dirigindo-nos apelos desesperados e esperançados. Além disso, o uso de imagens de arquivo reforça a origem do mal que empurra Franz para o seu destino, mas também sublinham a tendência da História para se repetir. A memória é curta, por isso nunca é demais o confronto com o rosto e a evidência gritante de desumanidade como acto de recordação e prevenção.
Perante a ausência do habitual Emmanuel Lubezki, Malick promoveu o operador de câmara Jörg Widmer a director de fotografia. O resultado são momentos de rara beleza que colocam em cena os protagonistas com deslumbrantes paisagens alpinas como pano de fundo, sem com isto minorar a verosimilhança da dureza do trabalho campestre a que os habitantes de St. Radegund estavam sujeitos. Se a procura do sagrado neste contexto rural invoca a espaços a aspereza de Andrei Rublev, de Andrei Tarkovsky, as composições de James Newton Howard complementam a ponte emocional com o espectador, em mais um trabalho de exceção de um compositor contemporâneo sob a batuta de Malick. Independentemente do saldo pessoal destas colaborações, o realizador inspirou no passado alguns dos melhores trabalhos de Hans Zimmer, James Horner e Alexandre Desplat, voltando a repetir o feito com Newton Howard, num apurar de uma variante da musicalidade experimentada pelo compositor em 2004 em A Vila, de M. Night Shyamalan.
Se há uma excepção que se pode apontar a Uma Vida Escondida é a opção da língua. Interpretado na sua maioria por actores alemães e austríacos, o filme é falado em inglês, enquanto que o alemão, com raras excepções, é utilizado como a língua do “outro”, da agressividade, do insulto e da intolerância, por vezes os dois idiomas partilhando a mesma cena. Se o ideal era ter o filme integralmente na língua nativa, ou, alternativamente, assumindo-se totalmente o inglês, a opção tomada é discutível, especialmente se a encararmos como a língua oficial de um mal universal que, na verdade, apenas circunstancialmente, tem nação.
Mais uma vez, este novo título de Terrence Malick não fará mudar a opinião a quem não se deixe encantar pela sua linguagem e estilo, mesmo voltando a aproximar-se de uma narrativa tradicional. Na sessão a que assisti, mesmo entre opiniões positivas, ouviram-se queixas imediatas das suas quase três horas de duração. E é verdade que nem todos os momentos atingem a mesma qualidade. Mas também é verdade que quando o cinema de Malick se eleva, e não são assim tão poucas vezes, anda muito perto da perfeição poética feita cinema.